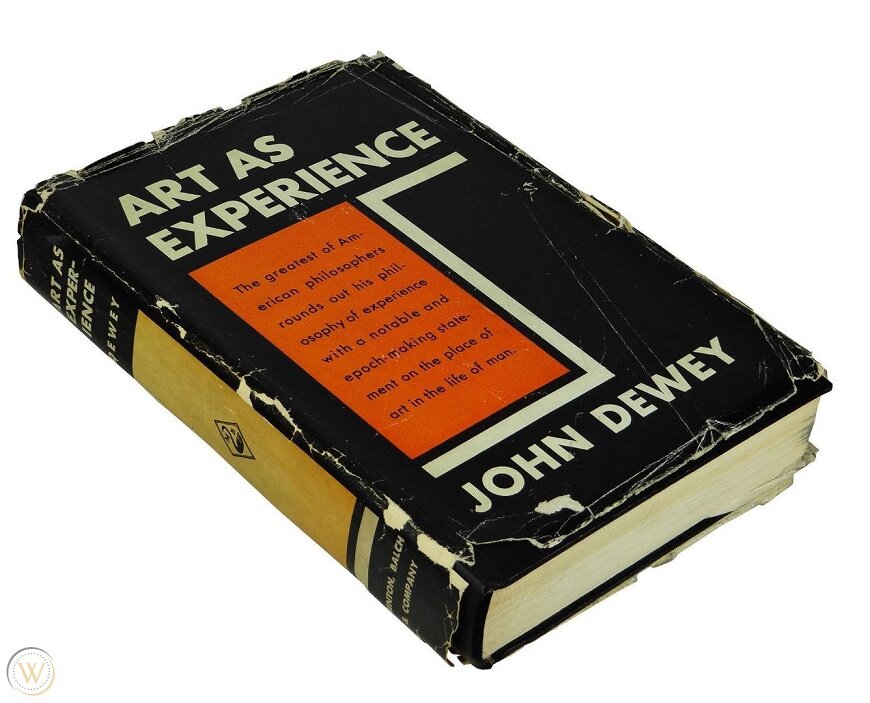Entre os 20 e 23 anos, tive um casal de amigos que, melodicamente, vou chamar de Rubens e Raquel. Por diversos fins de semana, saíamos radiantes com a ideia de que éramos capazes de inventar uma noite, um jeito de fazer da noite uma noite do nosso tempo, e de fazer esse tempo ser mais nosso. No fundo, nos sentíamos prontos para antecipar o tempo que, de alguma maneira e em algum momento, viria a ser o tempo dos outros. Evitávamos repetir os lugares, os percursos e até a combinação das palavras de “todo mundo”, porque, assim, estaríamos justamente mostrando que era possível, e desejável, fazer diferente, ser diferente - sendo como a gente.
Numa dessas noites, nos imaginando longe do baile branco fora da média, de onde particularmente eu nunca realmente sairia, sentamos para comer num café chique, depois de ter filmado alguns depoimentos em bares, filas e calçadas, sobre o significado do amor. Se existe, o que é? Se não se define, ainda seria?
Raquel e Rubens, talvez nessa ordem, amaram-se. Ou acreditaram que estavam se amando. Ou tanto faz.
Os registros sobre o amor que capturamos em VHS estragaram no quarto dos fundos de uma casa grande no Butantã. Mas a conversa que tivemos, os três, continuou, ou eu continuei, como solilóquio, conforme aquilo bateu, e continua a bater, em mim.
O Rubens declarou que nós éramos existencialistas. Engatinhar dos anos 2000. São Paulo. Era um pedaço pequeno de São Paulo, era a procura, numa outra Paulista, pelo lado B da cidade com mais lados que já vi no mundo. Raquel e eu estávamos caminhando para terminar nossas faculdades; Rubens nunca foi estudar depois do supletivo. Mas era quem mais tinha lido entre nós, e entre os nossos de quem nos queríamos diferentes.
“Nós temos certeza de que, sendo o que somos, criamos alternativas para a maioria em quem não nos reconhecemos”, disse ele, da maneira calma com que sempre disse as coisas que disse pra mim. “Não estamos amarrados a nenhuma ideia que quiseram pra gente; vamos fazer da vida o que a vida que a gente imagina pode ser”.
Se existe essa vida, o que foi? Se não se define, teria sido?